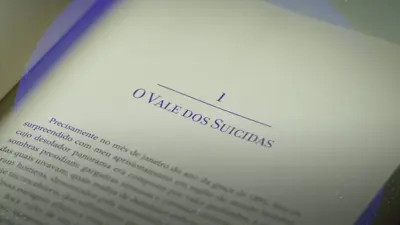Unidas pela dor: mães que perderam filhos para a violência encontram amparo em grupo no RJ
- Júlia Dias Carneiro
- Da BBC Brasil no Rio de Janeiro

"No começo eu só ficava em casa chorando. Não queria mais viver. A dor de perder um filho é insuportável." Elisângela tem 45 anos, mas há quase dois não para de se perguntar: por que mataram, em vez de prender?
Seu filho, Iago, de 16 anos, foi morto por policiais durante uma operação em uma favela da zona norte do Rio, em 2016, ao lado de outros quatro "suspeitos mortos em confronto", como noticiaram jornais na época. Ele atuava em uma facção criminosa - mas era "praticamente uma criança", diz a mãe.
"Ele era viciado? Era. Fumava maconha? Fumava. Estava em má companhia? Estava. Eu preferia que eles prendessem, não matassem. Os policiais falaram que, se prendessem o meu filho, ele ia sair da cadeia e matá-los. Mas ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém", diz, aos prantos.
Elisângela desabafa sentada ao lado de outras mães que, como ela, perderam os filhos jovens para a violência do Rio. Todas elas são moradoras de favelas conflagradas, com alto potencial de confrontos violentos, na zona norte da cidade.
Quando os encontros entre o grupo de mães começaram, há nove meses, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rubens Correa, em Irajá, zona norte do Rio, ela mal conseguia falar - só chorava. Com o atendimento psicossocial do serviço público, a proposta era que ela e outros parentes de vítimas de violência pudessem deixar de viver suas histórias em silêncio e na solidão.
Criado por quatro servidoras municipais da assistência social, o grupo foi fruto de um curso para capacitar agentes da rede pública para atender vítimas de violência do Estado, promovido pela ONG Instituto de Estudos da Religião (Iser) em parceria com a Equipe Clínico-Política.
O objetivo era oferecer um serviço público de saúde e assistência social, incentivando políticas em prol da reparação psíquica de famílias que tiveram pessoas mortas por policiais, agentes estatais ou para-estatais.
Elisângela conta que Iago começou a se envolver com o tráfico pouco depois que a família se mudou de Bangu para um morro da zona norte. Ele tinha só 11 anos quando começou a entregar "quentinhas" para bandidos. "Aí começou a se viciar em maconha. E nisso fugia de casa, sumia, e eu ficava em casa desesperada. Quando ele chegava, respondia que estava com amigos. Que amigos são esses?", questionava Elisângela.
Ela teve cinco filhos, e diz ter dado a mesma educação para todos. "Só um foi para a banda podre. Aí as pessoas me questionam, dizem que eu não soube educar, que eu trouxe ele para o morro para morrer. Eu só trouxe ele para onde eu tinha condição de comprar uma casinha", lamenta. "É uma dor que vai ficar para o resto da vida."
'Alguma culpa ele devia ter'
Histórias como a de Elisângela fazem parte do dia a dia do grupo que se reúne quinzenalmente no Cras.
De início, o foco da capacitação oferecida pelo Iser seria no atendimento a vítimas de violência estatal. Mas as Mães Unidas pela Dor, como elas se autodenominaram, perderam seus filhos para os confrontos urbanos generalizados na cidade - nas mãos da polícia, sim, mas também de traficantes, de milícias ou por balas perdidas.
Elas concordaram em receber a BBC Brasil no espaço onde os encontros são realizados, escolhido por ser central para famílias atendidas e também por ser um território neutro - já que comunidades diferentes da área são dominadas por facções rivais.
A sala simples, com carteiras de sala de aula, fica mais acolhedora com as contribuições que elas trazem para um café da manhã coletivo. Há bolo, croissant, cream-cracker e requeijão sobre a toalha de plástico imitando renda.
Mas é na parede que está o centro das atenções: o quadro de avisos que é sempre virado de trás para frente quando elas entram na sala.

No verso do quadro, as mães elaboraram uma espécie de relicário para seus filhos. Cada uma decorou uma folha de papel com uma foto de seu filho ou sua filha, emoldurando o retrato com brilhos, flores, corações, e palavras como "amor", "paz", e "eterno".
"Aqui é um espaço em que podemos falar sobre o que aconteceu com os nossos filhos sem julgamento", diz Ana Paula, mãe de Juan, que foi assassinado há quatro anos por traficantes, aos 16 anos, e teve o corpo largado na Avenida Brasil.
No mundo "lá fora", as circunstâncias de morte dos seus filhos, todos jovens, despertam olhares desconfiados.
Ana Paula elenca frases que todas já ouviram. "Alguma coisa fez de errado." "Estava envolvido." "Alguma coisa estava devendo." "A mãe não educou direito." De vítimas da violência, elas se veem na mira de olhares acusadores, responsabilizadas de alguma forma pelo que aconteceu.
"Antes não tinha com quem desabafar", resume Ana Paula. "Falam que não ensinamos o caminho certo para nossos filhos. Como se fosse por falta de falar", diz Ana Paula. "O jovem não ouve" é uma frase recorrente entre as mães.
"As pessoas não entendem o seu lado, não respeitam a sua dor", diz Ana Kelly. "Para prejulgar é um montão. Para te abraçar são poucos."
'Estou de pé por causa desse grupo'
Ana Kelly, de 30 anos, perdeu a mais velha de seus cinco filhos há 10 meses. Ana Késsia tinha 14 anos e saiu de casa escondida para ir a uma comunidade dominada pelo tráfico na zona norte. Foi morta por um disparo aparentemente acidental após tirar fotos com a arma de um traficante. Ficou agonizando no chão até que um morador tomou coragem de levá-la para o hospital, mas ela não resistiu à cirurgia.
"Na primeira reunião, a gente não tinha nem palavra. Derramava as nossas palavras em lágrimas", diz Ana Kelly. "Hoje, eu estou de pé por causa desse grupo e da força que criamos juntas", afirma. Ela é mãe solteira e cuida dos filhos sozinha, e nesta manhã no Cras está com a filha Esther, de 3 anos, no colo, e Samuel, de 6, sentado ao seu lado. O menino estica a mão para secar a lágrima que escorre pelo rosto da mãe.
O objetivo inicial não era formar um grupo exclusivamente de mulheres ou mães. Mas o mapeamento das famílias foi feito a partir dos cadastros para receber o Bolsa Família, que, segundo a assistente social Maria da Glória Alves, costuma ser atualizado no Cras pelas mães - não raro pela ausência da figura paterna em casa. A equipe soube da morte dos filhos de Ana Kelly e de Ivonete, por exemplo, quando elas foram retirar o nome deles do Cadastro Único para receber o benefício. Ivonete teve o filho de 13 anos morto por um policial miliciano.
"A gente não buscou fazer um grupo só de mulheres. A ideia era fazer um grupo de famílias. Mas acabou se criando esse foco", conta Alves.
"Para nós mulheres, acho que é mais fácil a gente vir chorar uma do lado da outra", diz Ana Paula. "Já chamei o meu esposo, e ele falou: 'E vou para ficar lá chorando no meio de um monte de mulher?'", conta.
Na primeira reunião, a educadora social Ana Lúcia Ribeiro conta que as mães só choravam, deixando a equipe insegura sobre a ideia. "Ficamos arrasadas. Mas uma foi fortalecendo a outra, e isso vale tanto para as mães quanto para a equipe."

No encontro seguinte, só uma das mães voltou. Mas, aos poucos, o grupo foi se consolidando.
"Essas mães não tinham com quem falar sobre suas trajetórias, seu sofrimento, suas agruras", diz Alves.
"O grupo se tornou um espaço coletivo para trocas, um lugar de escuta, de reconhecimento das potencialidades de cada uma. Elas se identificaram e desenvolveram uma sensação de pertencimento, de serem donas do grupo."
A psicóloga Giovana Albuquerque e a assistente social Simone do Nascimento completam o quarteto que atende o grupo de mães. A equipe reúne funcionárias do Cras Rubens Correa e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Wanda Engel Aduan.
Foco em Acari e arredores
Ana Lúcia, Maria da Glória, Giovana e Simone estão entre os mais de 30 agentes municipais que participaram da capacitação oferecida pelo Iser e pela Equipe Clínico-Política. O treinamento integra um projeto batizado de Centro de Estudos em Reparação Psíquica (Cerp), e teve financiamento do Fundo Newton, do British Council. A iniciativa é um desdobramento de projetos voltados para a reparação psíquica de vítimas de tortura durante a ditadura militar - agora buscando a reparação para casos de violência cometidos pelo Estado nos dias de hoje.
O foco foi no treinamento de agentes de saúde e assistência social de atenção básica, e que atuassem na região de Acari e arredores, de Irajá até a Pavuna.
De acordo com a psicóloga Olívia Françozo, coordenadora do Cerp-RJ, essa região da zona norte carioca foi escolhida por ter altos índices de violência policial, mas ser menos assistida que outras regiões igualmente violentas, como os complexos do Alemão e da Maré.
"Essa região não é tão acessada por serviços públicos nem por ONGs e projetos sociais. Então, é muito carente de serviços", explica a psicóloga.
A maior parte da área é coberta pelo 41º Batalhão da Polícia Militar, que foi denunciado pela vereadora Marielle Franco nas redes sociais como o "batalhão da morte" poucos dias antes de seu assassinato, em março, no crime que também custou a vida de seu motorista, Anderson Gomes.
A área é recordista dos chamados "homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial", antes conhecidos como autos de resistência. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), autarquia ligada à Secretaria de Segurança do Rio, 112 pessoas foram mortas na área do batalhão em 2017 - o equivalente a 10% dos 1.127 autos de resistência ocorridos no Rio ano passado.
"Nossa equipe vem trabalhando há muito tempo para que o governo se responsabilize pela reparação dos afetados por violência do Estado", explica Françozo. "A reparação integral passa pela reparação psíquica. E o fato de o atendimento ser oferecido pelo próprio Estado perpetrador da violência é muito significativo. Por isso é tão importante capacitar os agentes públicos."
A capacitação não prescreveu um modelo de atendimento aos agentes públicos, e o grupo formado no Cras Rubens Correa optou por não focar apenas em vítimas de violência do Estado. Segundo a assistente social Maria da Glória Alves, no panorama de violência do Rio, é difícil delimitar onde começa e termina a responsabilidade do Estado.
"Temos mortes por ação de uma polícia truculenta, mas também temos assassinatos cometidos por traficantes em uma situação de violência urbana que reflete a ausência do Estado", pondera Alves.
Em nota, a Secretaria de Segurança do RJ afirma que os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial apresentaram queda de 11,4% em março em comparação ao mesmo período do ano anterior, e que a Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga as mortes nestas condições "em busca de elucidação e transparência". O governo estadual do Rio está sob intervenção federal desde fevereiro na área de segurança pública.
A secretaria não comentou se teria responsabilidade sobre casos de assassinatos associados a uma ausência do Estado, mas destaca a determinação do secretário Richard Nunes, que assumiu a pasta após a intervenção federal, de que as polícias atuem "para combater os delitos com o objetivo de um atuação mais preventiva e qualificada das forças de segurança".
A pasta frisa ainda que publicou, no ano passado, resolução normativa para "preservar a vida dos moradores das comunidade e das forças policiais", estabelecendo protocolos para operações policiais "em áreas sensíveis onde há elevado risco de confronto com infratores da lei".

Dia da maquiagem, dia da fotografia
Além dos encontros quinzenais, as mães mantêm contato regular por meio de um grupo de WhatsApp. Foi aí que surgiu o nome Mães Unidas Pela Dor.
A amizade e o entrosamento que demonstram hoje dá gosto à equipe de assistência. O início foi difícil. Nem todas as famílias procuradas atenderam ao chamado, e nem todas as mães que apareceram nas reuniões retornaram.
A metodologia e as dinâmicas dos encontros foram sendo desenvolvidas ao longo do percurso, fortalecendo as mães a partir dos temas trazidos por elas.
Uma relatava dificuldades de ver fotos do filho. O debate iniciado a partir daí levou à ideia de promover um "dia da fotografia", onde cada uma traria retratos dos filhos para mostrar às outras. Outra falou que não se sentia feminina porque não se maquiava. A conversa foi a deixa para um "dia da beleza", com sessão de manicure, pedicure e maquiagem.
No fim do ano, a equipe levou as mães para um passeio de van pela Lapa, no Centro, e pela Urca, com vista para o Pão de Açúcar. "Foi maravilhoso. Elas viraram crianças de novo", conta Alves. "A mobilidade é uma grande questão para moradores dessa região. Uma das mulheres do grupo nunca tinha saído dos arredores de Irajá."
Hoje, as mães reclamam quando não há encontros, e se queixaram que o recesso de fim de ano foi longo demais. Para a equipe, não há queixa melhor a se receber.
"Que cobrança deliciosa", brinca a assistente social. "É sinal de que os encontros são realmente importantes. Dá sentido ao nosso trabalho."